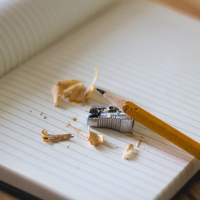A Perda da Nacionalidade de Brasileiro(a) Nato(a)
Cláudia Cristina Sobral, brasileira e natural do Rio de Janeiro, se casou com um médico norte-americano, o que lhe garantiu a obtenção do green card, que dentre outros direitos e obrigações, lhe possibilitou viver permanentemente nos Estados Unidos, bem como lá trabalhar, desde que o trabalho não estivesse reservado exclusivamente a cidadãos natos ou naturalizados. Em 1999, já divorciada, requereu sua naturalização, porquanto Cláudia se formou contadora nos Estados Unidos, mas para que pudesse exercer seu ofício, pela legislação federal norte-americana, precisaria de um certificado de fé pública, não concedido a estrangeiros. Cumpridos, então, os requisitos da legislação local, seu pedido de naturalização foi deferido. Como consequência, fez juramento à bandeira que equivale a um ato de cidadania e compromisso e lealdade com a pátria jurada. Anos depois se casou novamente, mas, em 2007, seu marido foi encontrado morto em sua casa e as autoridades norte-americanas a denunciaram por homicídio qualificado. Cláudia retornou ao Brasil apenas alguns dias após a as autoridades locais constatarem o suposto crime. Alegou-se então que o retorno de Cláudia ao Brasil seria, na verdade, uma fuga para se ver protegida por sua nacionalidade originária brasileira, evitando-se, assim, uma eventual persecução penal que poderia lhe condenar à morte ou à prisão perpétua naquele país. Diante dessas circunstâncias, o Ministério da Justiça brasileiro (“MJ”) declarou unilateralmente a perda de sua nacionalidade, por meio da Portaria n. 2.465/2013, pois se entendeu que a concessão da naturalização e o consequente juramento à bandeira norte-americana equiparar-se- ia a uma declaração unilateral de vontade de renúncia de sua nacionalidade. Após longas discussões judiciais acerca de qual tribunal era competente para julgar a legalidade ou não da referida portaria ministerial – se o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) ou o Supremo Tribunal Federal (“STF”), o processo seguiu neste último. No início de 2018, em sede do Mandado de Segurança n. (33.864) , o STF decidiu, por uma maioria de 3 votos a 2, pela extradição de Cláudia, argumentando que ao naturalizar-se norte-americana, por livre e espontânea vontade, renunciou automaticamente à nacionalidade brasileira e, portanto, tal portaria era um ato meramente declaratório. Note-se que esta decisão, pelos mais diversos motivos, permite um precedente jurisprudencial muito perigoso, no tocante à garantia da nacionalidade, em especial para os casos de brasileiros(as) que solicitaram, solicitam ou solicitarão sua naturalização em outro país por diversas razões que não implicam na ideia de rompimento de seu vínculo com o Brasil. Ademais, a referida decisão merece ser analisada sob o prisma da afirmação e da efetividade dos direitos humanos e do conceito atual de soberania, na medida em que o direito à nacionalidade integra o rol dos direitos fundamentais e estes últimos são cláusulas pétreas da Constituição da República Federativa do Brasil (“CF/88”). A CF/88 prevê o direito à nacionalidade, distinguindo-a entre nacionalidade originária e derivada. Se por um lado, a nacionalidade originária é adquirida por critérios sanguíneos e/ou territoriais; a nacionalidade derivada adquire-se mediante naturalização, por vontade do próprio requisitante. Como regra, a CF/88 proíbe a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, exceto em casos de extradição, na qual nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, e este último somente em casos de prática de crime antes de se naturalizar ou em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes após a naturalização (artigo 5°, inciso LI). Observe-se ainda que a nacionalidade, é um direito inerente ao ser humano e, por tal razão, está presente nos principais instrumentos jurídicos regionais e universais de proteção dos Direitos Humanos. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos prescrevem que ninguém poderá ser privado de uma nacionalidade, ou até mesmo do direito de mudá-la. Neste âmbito, a preocupação é afastar a possibilidade de apatria, ou seja, a ausência de uma pátria, assegurando, pois, que cada indivíduo tenha o direito de ser juridicamente vinculado a um Estado, sob pena de, nos dizeres de Hannah Arendt, “ser privado da pertença ao mundo, de retornar ao estado natural, como homens das cavernas ou selvagens”[1]. O Direito Internacional dos Direitos Humanos elevou o indivíduo à condição de sujeito de direito internacional, trazendo consequências irrevogáveis, inclusive na seara da relação entre o indivíduo e o Estado. Passou-se a aceitar a ideia de “cidadão do mundo”, buscando afastar a ideia de dependência exclusiva do indivíduo ao Estado a qual mantém vínculo, seja em razão do local de nascimento, seja em razão do sangue (família). Protegido, portanto, está o indivíduo sob todos os prismas, isto é, não está submetido a eventuais arbitrariedades de seu Estado de origem, porquanto não encontra mais guarida na legislação internacional. Dentro dessa perspectiva, o direito à nacionalidade e o respectivo exercício da cidadania, não deve estar mais vinculada apenas a questões territoriais ou sanguíneas. Essa teoria, substitutiva da clássica Teoria Geral do Estado, melhor se coaduna com os avanços obtidos na seara dos direitos humanos, na qual o Estado, ao invés de detentor de uma soberania absoluta e pautando suas políticas apenas como decorrência de seus próprios interesses, passa a ser instrumento de realização de objetivos domésticos, regionais e universais em defesa do ser humano. Diante desse contexto, entende-se equivocado o posicionamento majoritária da referida turma (2ª) do STF. Primeiro porque considerou legal o procedimento unilateral de perda de nacionalidade iniciado pelo MJ e contrariando instruções do Ministério das Relações Exteriores, na qual “a nacionalidade brasileira não exclui a possibilidade de possuir, simultaneamente, outra nacionalidade e que a perda da nacionalidade brasileira somente ocorrerá no caso de vontade formalmente manifestada pelo indivíduo”. Segundo, porque ignorou o conteúdo do artigo 12, § 4°, inciso II, item “b” da CF/88, no qual prescreve que não se perde a nacionalidade brasileira quando a imposição de naturalização, “pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para sua permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”. In casu, a Brasileira naturalizou-se norte-americana para poder exercer seu ofício de contadora, observando a legislação federal local, na medida